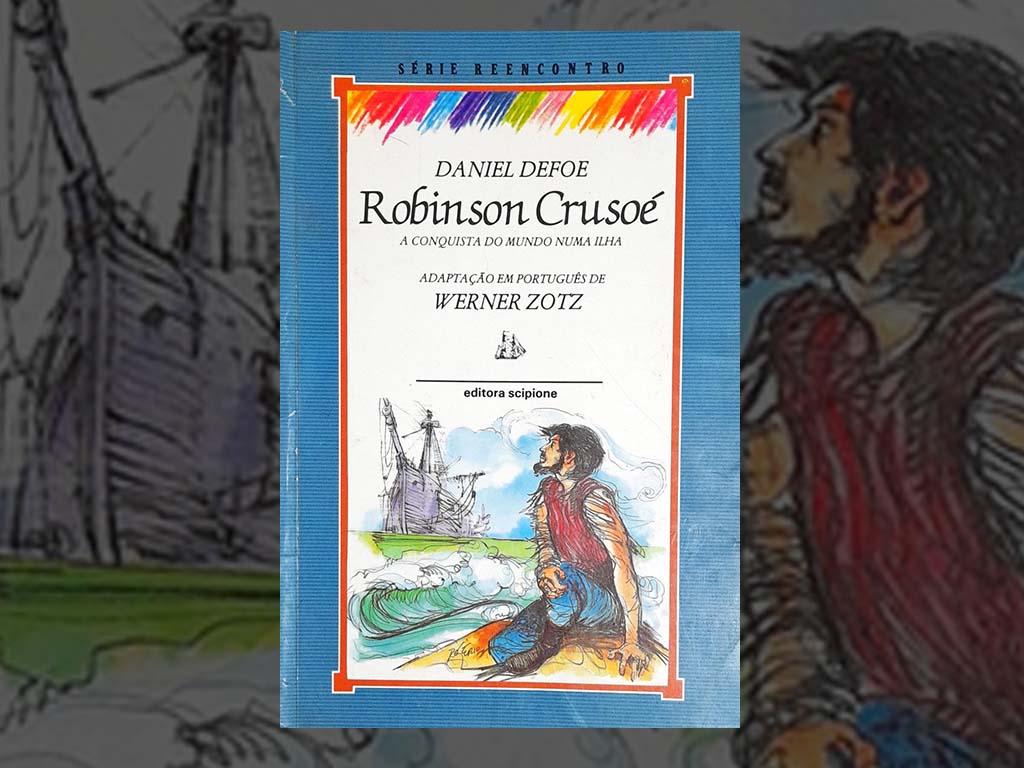Usar o cinema como fonte para a pesquisa histórica implica em adotar teorias e metodologias de complexidade maiores que a usual. Afinal, uma imagem vale por mil palavras. Contudo, é possível apontar alguns consensos no exame da historiografia especializada que podem servir de orientação geral.
No caso do filme de ficção histórica o ponto de partida deve ser o entendimento da sua relação com ambas as épocas:
1) aquela na qual é realizado: os processos de concepção, planejamento, produção, distribuição e exibição dos filmes colocam questões específicas para os elaboradores da obra cinematográfica, relacionadas com a indústria cultural na qual é realizada (tecnologia disponível, financiamento, direitos autorais, margem de lucro, controle da mão de obra, censura etc.). É importante conhecer a história da produção do filme analisado a fim de entender os limites e possibilidades abertos aos cineastas em diferentes épocas históricas.
2) aquela que pretende retratar: a época que é recriada nos filmes também guarda estreita relação com o contexto histórico no qual foi realizado. Os eventos, personagens e temas retratados nos filmes se relacionam a uma história muito mais antiga, originada da cultura, mitos, valores, utopias, lendas e tragédias vividas por cada povo em particular. Aquilo que é mostrado nos filmes não só tem que fazer sentido, mas também atender a determinados anseios sociais e necessidades psicológicas da audiência, sob pena de incorrer um fracasso comercial.
Os filmes de ficção histórica reproduzem e/ou reforçam um tipo de saber sobre a História que, geralmente, já foi cristalizado na cultura e na memória coletiva. Embora possa conter aspectos originais, inclusive no intuito de se viabilizar comercialmente, a ficção histórica tem que ser significativa para a sua audiência. Para entender o processo social de produção de significados que sejam eficazes tanto do ponto de vista comercial quanto cultural, deve-se pesquisar a relação que envolve historiadores, pesquisadores, críticos, cineastas e público em torno do produto cinematográfico.
Todo filme tem de equacionar a tensão entre ficção e História, a fim de lograr a realização de uma produção socialmente significativa e comercialmente lucrativa. Uma das tarefas do historiador seria, então, explorar e problematizar a relação entre o estado da arte na disciplina de História, isto é, o estágio atual dos conhecimentos gerados na pesquisa histórica, e aquilo que é retratado nos filmes. Isso implica em extensas pesquisas e consultas a documentos, historiografia e fontes de informação, comparando-os com aquilo que é mostrado nos filmes com recurso à encenação ficcional.
O primeiro e mais óbvio elemento a ser analisado é o conteúdo da própria obra cinematográfica. No que se refere ao conteúdo, a primeira iniciativa é descrever a história que é contada no filme. O que o filme conta é, certamente, o nível mais imediato de apreensão do seu sentido e significado. Trata-se do conteúdo mais apreensível e imediatamente percebido. No limite, ele pode ser compreendido, ainda que precariamente, a partir apenas da leitura do argumento ou da sinopse.
Ainda no que se refere ao conteúdo, deve-se levar em conta também as referências que faz – ou deixa de fazer – ao contexto histórico mais amplo ao qual ele se refere. A linguagem cinematográfica tem uma enorme capacidade de resumir e sintetizar amplos períodos da história em apenas umas poucas cenas. O desafio que é colocado ao historiador é tentar perceber quais elementos da conjuntura histórica são contemplados ou esquecidos, com que intensidade e frequência e de que forma a história do filme é por eles influenciada ou não.
Na realização de cada filme, os elaboradores contam com substancial liberdade criativa, embora tenham que se submeter aos imperativos das leis de mercado. Nestes termos, o filme tem que atrair a atenção do público, manifesta na frequência a salas de cinema ou na audiência da transmissão por TV ou internet, e ser compatível com – ou, pelo menos, não afrontar – os valores e interesses dos seus financiadores. Também a censura ou a autocensura podem exercer considerável influência sobre o conteúdo.
Os custos da produção também têm de ser levados em conta, a fim de manter a margem de lucro dentro dos limites desejáveis, como convém a todo empreendimento capitalista. Desta forma, a reconstituição de determinados aspectos da realidade histórica pode vir a sofrer impactos negativos. O mais recorrente destes é o anacronismo, isto é, o uso de elementos incompatíveis com a época histórica que está sendo retratada devido a restrições orçamentárias. Obviamente que a crítica histórica não pode se restringir apenas a este aspecto, como usualmente ocorre, mas nem por isso os anacronismos devem deixar de serem apontados pelo historiador.
A história que é contada no filme guarda relação com a conjuntura histórica na qual é realizado. É claro que diferentes versões de uma mesma história retratada em filmes de épocas distintas se constituem em ótimo material de análise. Uma comparação entre as várias versões que teve uma mesma história retratada no cinema certamente torna mais nítida a relação que cada filme mantém com a sua época e seus valores. Mais ainda, permite perceber as transformações operadas na linguagem cinematográfica (edição, montagem, efeitos especiais, dramatização, cenarização etc.) e de que forma estas variáveis impactam a narrativa fílmica.
O pressuposto que se tornou consensual nos estudos históricos do cinema é de que os filmes devem ser entendidos como um discurso cinematográfico, isto é, as imagens ali retratadas foram deliberadamente construídas e, nesse sentido, serão sempre parciais, direcionadas e portadoras de uma determinada interpretação dos eventos e épocas que descrevem.
Isso não quer dizer, contudo, que o sentido do filme seja unívoco, isto é, que a mensagem que transmite ou a interpretação que induz seja percebida da mesma forma por toda audiência. Todo filme, por mais engajado ou afiliado politicamente que seja, pode abrigar leituras divergentes a respeito de um determinado acontecimento. Mas a questão da recepção fílmica, devido as suas especificidades, não será tratada aqui, ficando para uma próxima vez.
Dennison de Oliveira é Professor Sênior do Mestrado Profissional em Ensino de História da UFPR, organizou os livros “Túnel do Tempo – Um Estudo de História & Audiovisual” (Juruá, 2010) disponível aqui e “História e Audiovisual no Brasil do Século XXI” (Juruá, 2011) disponível aqui.
Leia outras colunas do Dennison de Oliveira aqui.